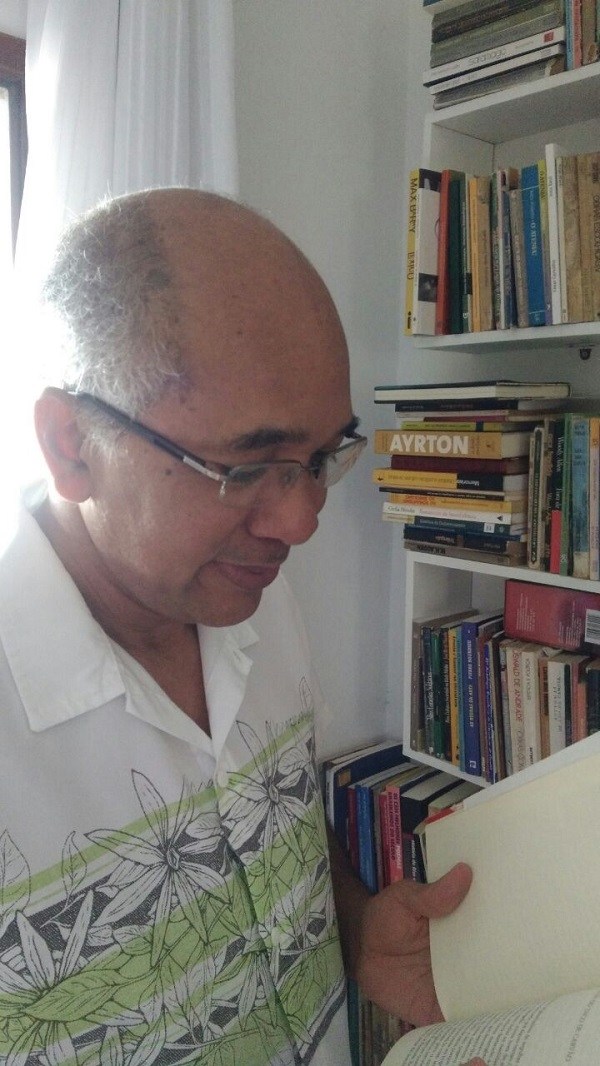Jeová Santana [*]
As primeiras chegaram de madrugada. A de minha avó materna. A de uma prima e um irmão de meu pai. A do filho de uma vizinha, depois de uns dias internados no Cirurgia, após bater o jipe na traseira de um caminhão, quando ia ao estádio Sabino Ribeiro no bairro Industrial. O que nos chegou, é que ele havia rompido “o bácimo”.
Depois havia o cheiro vindo de uma espécie de incenso enjoativo. Sempre chegava alguém com um punhado de flores, muitas vezes colhidas nas cercanias. De repente, os murmúrios das conversas paralelas eram suspensos, substituídos pelo clamor da saída. Isso, no entanto, dependia da condição, lembrando mestre Bandeira, do dono da “alma extinta”. Quem romperia em choro, por exemplo, diante do corpo magrinho de tia Inha, cega desde nascença? A chamávamos de tia porque nos disseram que havia certo parentesco com nosso pai. Colocaram seu corpo mirrado, sem nenhum alarde, no carro preto. Sim, ele sempre foi preto.
Já o filho da vizinha foi levado ao Santa Isabel pelos colegas do time em que jogava. Todos uniformizados e se revezando no pegar da alça. O Santos Dumont foi um representante aguerrido do que um dia se chamou de futebol amador. Essa cena vista por meus olhos meninos foi uma exceção. Nas outras, dividiam-se parentes e vizinhos em poucos carros. Mais adiante, passou-se a ter um ou dois ônibus da Bonfim, empresa onde trabalhava um tio como homem de confiança do dono. Algumas crianças punham as caras nas janelas dos ônibus, curtindo aquele passeio inesperado.
Hoje tudo mudou. Quando a gente vê, já é a foto da pessoa numa rede social, encimada por frases curtas com alusões à luz, ao descanso eterno, à passagem, à saudade. Só os extremamente próximos têm direito a uma última visão rápida, distante e fria. Nada de beijo, nada de abraço, nada de último olhar na “janelinha” da tampa.
A Cerimônia do Adeus, o pungente título escolhido por Simone de Beauvoir para registrar os últimos anos de Sartre, o companheiro com quem conviveu perto-longe, soa-nos como uma metáfora oca. A dor de quem fica não sai no virtual. O espanto naturalizou-se em meio à hecatombe dos números. Viramos personagens reais, saídos de páginas como O Mez da grippe, de Valêncio Xavier; A peste, de Albert Camus; O amor nos tempos do cólera, de Gabriel García Márquez.
O círculo cada vez mais próximo. Em cinco dias, retiraram-se de minha retina para o rio da memória, Cléber Santana, um promissor historiador em Aracaju; Átila Vieira, um aguerrido jornalista e ativista, em Maceió. Ambos com a vida em plena floração. Átila ainda iluminava outra prática: a poética de Augusto dos Anjos e Elisa Lucinda nos saraus da vida. A nossa “estrada de pó e esperança”, cantada por mestre Drummond, nunca esteve tão cinza. Só nos resta tentar sobreviver a essa sinuca de bicos fatais. Juntar forças contra o azar de lutar contra dois monstros, o do vírus e o da ignorância assentada no pântano central do país.
Saravá!
—————————–
[*] É Mestre em Teoria Literária pela Unicamp, Doutor em Educação e Ciências Sociais pela PUC-SP, professor da Universidade de Alagoas, escritor e autor de diversos livros – Dentro da Casca (1993), A Ossatura (2002), Inventário de Ranhuras (2006), Poemas Passageiros (2011), entre outros títulos.
Foto: Denilma Diniz Botelho